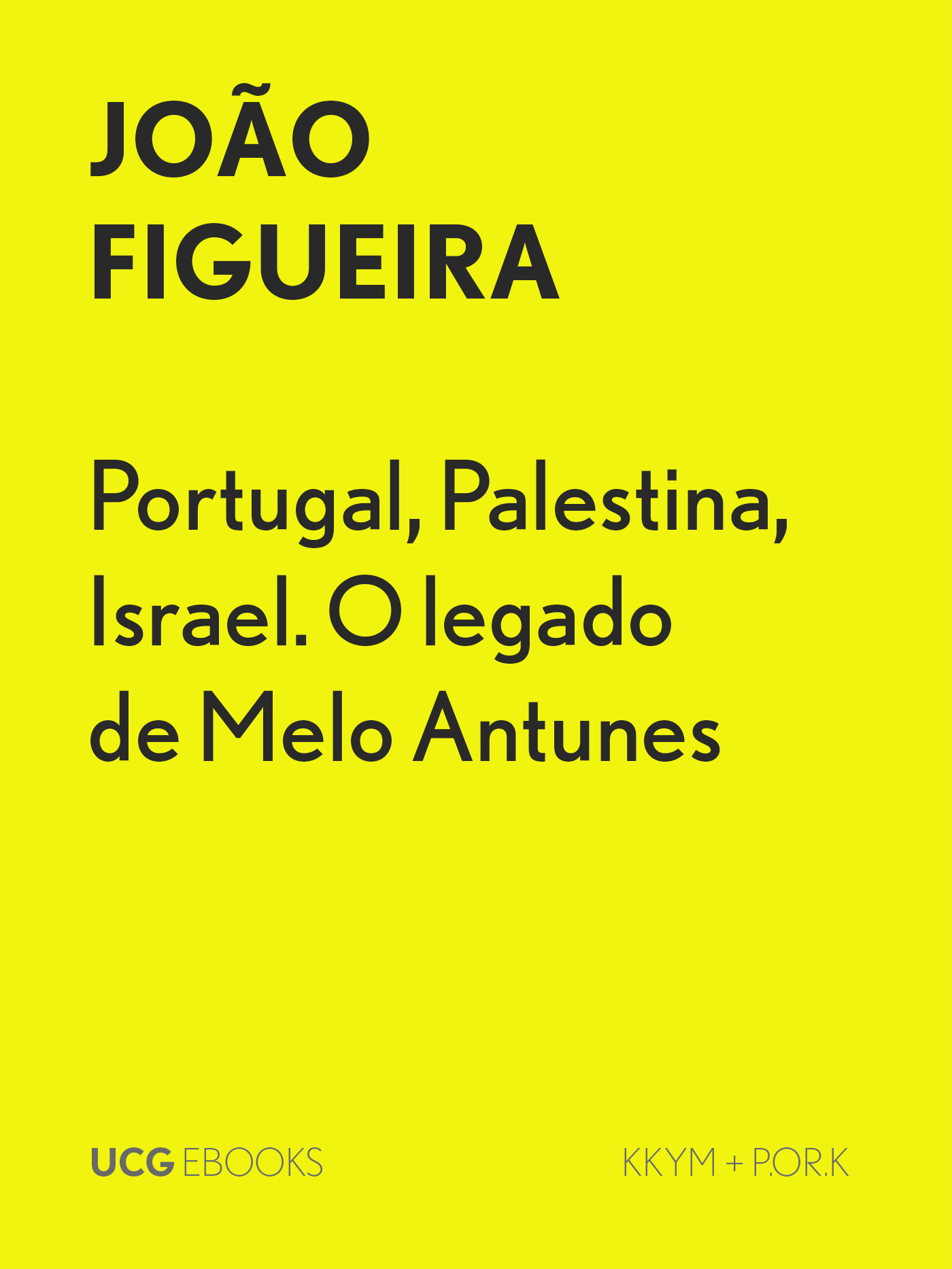J. Figueira
Portugal, Palestina, Israel
O legado de Melo Antunes
O debate sobre as violências em Gaza e na Cisjordânia, frequentemente reduzido aos crimes do Hamas e de Israel, tende a ocultar as raízes históricas do conflito.
Em discurso-artigo de 1976, Ernesto Melo Antunes, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, considerou o povoamento por judeus europeus “de um território já habitado” no Médio Oriente, como “uma colonização forçada”, “pressupondo a expulsão dos palestinianos ou a sua redução a um estado de sujeição”, o que qualificou de “uma situação colonial ou neocolonialista”. Já antes João Bénard da Costa havia publicado um artigo explorando o contexto histórico que aqui se desenvolve.
Na Antiguidade, “judeu” designou os crentes na primeira fé monoteísta e gentes da Judeia, organizados em torno do seu Templo. Com o exílio na Babilónia, a absorção da Palestina pelos impérios helenístico e romano, o judaísmo passou a ser o nome de uma religião centrada no Livro. Com o fracasso das revoltas judaicas contra Roma, progressivamente, os nativos da Judeia foram-se cristianizando e, depois, islamizando. Na sequência de David Ben-Gurion, Shlomo Sand pôde afirmar ser provável que um muçulmano de Hebron possa estar mais próximos dos judeus da Antiguidade do que os que hoje se identificam como judeus no mundo.
Fora da Palestina, o judaísmo expandiu-se, sobretudo pela conversão de reinos, impérios e pela prática do proselitismo. Assim se formam importantes povos e comunidades judaicas em África, na Europa, em torno ao Mar de Negro, etc. É assim que judaísmo e judeu designam uma religião que reúne uma diversidade de povos e comunidades.
No final do século XIX, a maior concentração de judeus gravitava em torno ao eixo Odessa-Kiev-Minsk-Vilnius, entre os impérios Russo e Austro-húngaro. Com língua própria, imprensa, escolas e teatros, constituíam o povo iídiche. Discriminados e alvo de progroms, a maioria dos judeus do Yiddishland buscou a sua emancipação pela emigração, pelo comunismo ou ainda através do Bund. Alguns, contudo, imaginaram a criação de um Estado judaico. É assim que surge o sionismo. Em 1896, Theodor Herzl publica O Estado Judaico e de seguida a Palestina foi escolhida como destino, sem consulta às populações locais, num claro reflexo da lógica imperialista europeia. A Declaração Balfour (1917) e o Mandato Britânico (1922-47) consolidaram, entretanto, a orientação sionista, ao prometer um “lar nacional judaico” na Palestina, sem garantir direitos de autodeterminação aos palestinos. A partir dos anos 1930, tanto palestinos como judeus revoltaram-se contra o Reino Unido. Todavia, no pós-Guerra, na Europa, ninguém quiz os sobreviventes iídiches do judeucídio e a ONU decidiu-se pela Partição da Palestina.
Para os palestinos, contudo, as vagas de imigrantes iídiches e a intenção de fundarem um Estado, representavam uma forma de colonialismo. É o que Rashid Khalidi descreve como “colonialismo de ocupação”: a chegada de colonos que se apropriam de um território, suprimindo a população indígena; situação que forçosamente gera uma reação. Na sequência da partição da ONU, a proclamação do Estado de Israel resultou na expulsão de 750 mil palestinos do novo país, o qual, por sua vez, acolherá 1,2 milhões de judeus. O resultado foi o agravamento da situação palestina. Hoje, o território disponível para o desenvolvimento do Estado palestino resume-se a 22% da Palestina histórica e encontra-se retalhado por colonatos.
A leitura de Melo Antunes sobre a questão israelo-palestina é uma perspetiva fundada na história e no direito internacional, reconhecendo os palestinos como indígenas e os judeus iídiches como colonos. Esta perspetiva, informada pela experiência anticolonial portuguesa, sustenta a defesa da autodeterminação dos povos como princípio essencial. Relembrar as palavras de Melo Antunes ajuda a compreender que o cerne do problema não reside em episódios recentes, mas no caráter colonial do sionismo desde as suas origens.
—